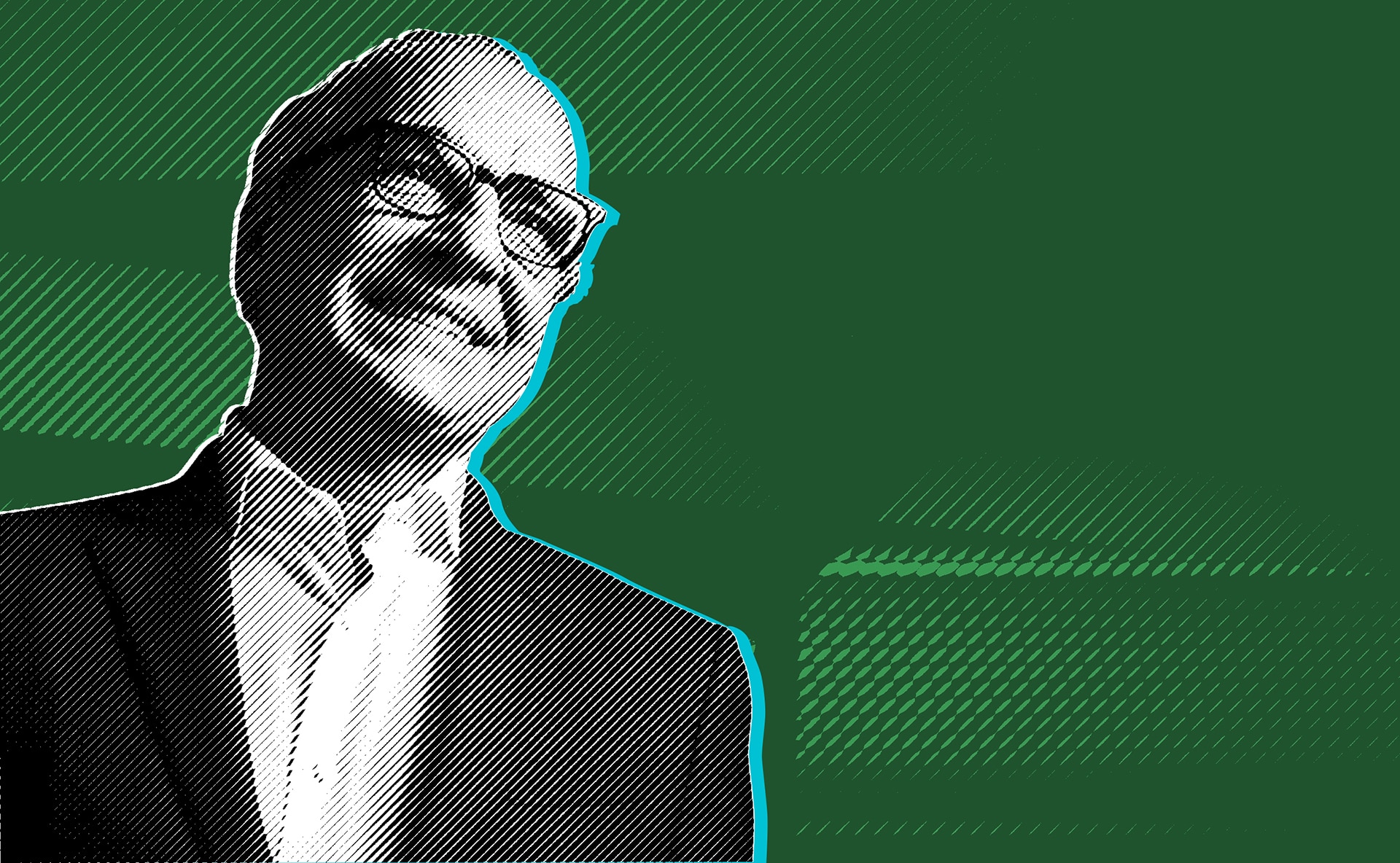
O empresário Guilherme Leal tem um histórico de envolvimento com a Amazônia que já dura metade dos seus 70 anos. Seja por meio da fabricante de cosméticos Natura, da qual é um dos fundadores e controladores, seja pelo Instituto Arapyaú, seu braço filantrópico, ou as diversas iniciativas das quais participa, como o movimento Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.
Agora, diante de um aumento colossal das queimadas na floresta, está trabalhando para trazer grandes empresas para a construção de uma narrativa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.
Para o empresário, a equação está dada: sem se colocar preço nas emissões de carbono e nos serviços ambientais, não tem como a atratividade econômica de se manter a floresta em pé superar os ganhos do desmatamento.
“As ONGs são fundamentais, mas elas sozinhas não produzirão a transformação. Você tem que trazer o business de fato”, disse, em entrevista por vídeo ao Reset. “As grandes cadeias de negócios têm que estar envolvidas. Se Marfrig, JBS, Minerva não entrarem como parte da construção de soluções, não vai acontecer”.
Conversas já estão ocorrendo com atores de outros setores além do agronegócio, como mineradoras e geradoras de energia, e também governos federal, estaduais e municipais, além de BNDES e ONGs. “Estamos em fase de mapeamento de quem precisa ser trazido para a mesa”, diz.
A expectativa é que se abra um novo espaço de diálogo com o governo federal agora que o vice-presidente, Hamilton Mourão, assumiu o Conselho da Amazônia.
Na semana passada, Mourão afastou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da presidência do comitê orientador do fundo Amazônia e retomou conversas com os embaixadores da Noruega e da Alemanha numa tentativa de reativar as doações dos dois países.
Na entrevista, Leal também falou da necessidade de se fazer as escolhas certas no pós-pandemia para que a crise se transforme numa oportunidade de fato para a transição rumo a uma economia que reduza as diferenças sociais e deixe de pressionar o ecossistema.
Crítico ao governo Bolsonaro, alertou para o risco de a situação piorar caso as escolhas não sejam feitas. “A liderança americana e a liderança brasileira, em vez de trabalharem com cooperação e coordenação, trabalham com divisão, guerra, ineficiência.”
A seguir, os principais trechos da entrevista de uma hora.
Muitas vozes, como a do Nobel Muhammad Yunus, dizem que a pandemia é uma oportunidade para avançar o capitalismo na direção de fato incorporar preocupações sociais e ambientais. Na prática, a pandemia impulsiona ou atrasa?
Essa é uma dúvida enorme. Eu tendo a concordar com o Yunus. Se a gente fizer escolhas certas, podemos usar esse impacto causado pela pandemia de uma maneira transformacional para o bem, de perceber que as diferenças são inaceitáveis, que uma economia que pressiona os ecossistemas reduz as chances de repetição de episódios trágicos como o que estamos atravessando. Mas podemos piorar muito.
Estamos num momento global muito complexo. A disputa China e Estados Unidos não é comezinha. É o império que está desde o final do século 19, começo do 20, que está sendo ultrapassado. E com lideranças [políticas] que não são as mais iluminadas espalhadas pelo mundo. É preciso buscar os caminhos de cooperação, de maior solidariedade, de redução de diferenças, de construção de economia de mais baixo carbono, que preserve os ecossistemas. A visão conhecida de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e menos sujeita a riscos. É uma janela, mas que precisa ser utilizada, se não nos aprisiona e nos sufoca.
Mas o que precisa ser feito?
A primeira coisa e mais óbvia: a liderança americana e a liderança brasileira, em vez de trabalharem com cooperação e coordenação, trabalham com divisão, guerra, ineficiência. Se os países se fecharem, dizendo “o vírus é chinês”, que é uma tentativa de tirar a própria responsabilidade, como faz o Trump, não funciona.
Isso aqui é um aperitivo, porque a crise climática é de uma proporção muitas vezes maior do que essa que estamos vivendo. Como é que vamos tratar com nacionalismos? Com antagonismos sem cooperação? O destino da humanidade está sob risco sério. São tantas as evidências de que o modelo está falido. Estado é importante, mas sozinho não funciona se não houver o envolvimento da sociedade civil, se não houver empresas mais responsáveis. É na dinâmica desses diversos atores que eu acho que as soluções se constroem.
Em entrevista pouco mais de um ano atrás você falou que o empresariado tentava se equilibrar: já existia desconforto com a pauta de costumes do governo e questões de política externa, mas havia uma vontade muito grande de que as reformas fossem aprovadas. Hoje o clima mudou?
Teve uma deterioração do quadro. Ele [o presidente Jair Bolsonaro] ainda tem apoio, mas está ficando mais escasso. Dá para ter a mesma agenda econômica pós-pandemia como se nada tivesse acontecido? Não dá. A política relativamente simples de disciplina fiscal, de reforma tributária, administrativa, necessárias, tem espaço político para acontecer? Muito pouco provável. Nós estamos sem uma agenda. Precisamos minimamente atender a questão da saúde e social que se coloca.
Infelizmente, a reunião do dia 22 foi uma Babel. O mundo inteiro está sem saber como lida com a pandemia, mas aqui nós estamos exagerando na dose. Estamos virando párias, porque a gente só tem alinhamento automático. A gente briga com a Europa, que é um certificado de qualidade para qualquer exportação, com a China, que é nosso principal cliente. Para quê? Para se alinhar ao Trump que talvez esteja fora do governo, se Deus quiser, daqui a seis meses? É uma política suicida. Estamos pagando e vamos pagar mais e mais preços econômicos por isso. Com essa série de problemas e sem uma agenda econômica, tem ainda uma base forte que não mostra sinais de se abater – 20%, 30%. Mas essa base está se esgarçando.
Você foi um dos primeiros a assinar o manifesto ‘Estamos Juntos’ [em defesa da democracia]. Qual foi a intenção e no que pode influenciar?
É uma ação política. Da mesma forma que o presidente e alguns dos seus aliados têm sido muito agressivos em relação às instituições, ao Supremo, ao Legislativo, às ONGs. Pode ser discurso? Pode. Mas é o discurso do presidente. Ele não teria o microfone se não fosse o presidente. Eleito legitimamente? Sim. Alguém quer derrubá-lo? Não, ninguém quer derrubá-lo. Desde que respeite a Constituição, a independência dos poderes. Então, alguma hora a sociedade tem que vocalizar.
Impeachment é uma solução extremada e ruim. Já tivemos duas experiências, em 1992 e 2014. Mas ele tem que respeitar a democracia. Movimentos como esse estão dizendo: “olha, nós queremos democracia, nós queremos instituições sólidas, Congresso aberto e funcionando, Supremo sendo supremo.” Se ele não for acatado, não é Supremo. Não é uma provocação, muito pelo contrário. É um manifesto amoroso, um não ao ódio. Com respeito às minorias, à arte, à cultura.
É quase como traçar um limite.
É óbvio que ninguém defende os conflitos de rua, por mais justificados que sejam. Mas acho que no domingo [31/05] teve um negócio simbólico de dizer: “a rua não é só de vocês não”. A rua não é só do verde e amarelo. Já se apropriaram do verde e amarelo. Essa manifestação comedida tem que estar presente, tem que mostrar limite, sim. Essa história de que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo, tem que mostrar que não é bem assim.
Sobre crise climática, no Brasil temos uma questão latente que é a Amazônia. Como você imagina uma solução para deter o desmatamento e conseguir efetivamente algo que funcione?
A curtíssimo prazo, enquanto tiver esse discurso das lideranças maiores, teremos meses dramáticos, níveis de desmatamento muitíssimo elevados. Como faz para parar o desmatamento em um determinado momento de pico como agora? É implementar a lei, Código Florestal. É querer fazer a coisa, é não ter um discurso permissivo, não ter anistia atrás de anistia que torna a grilagem um bom negócio. Vamos ver o que pode ser feito agora com a liderança do vice-presidente no Conselho da Amazônia.
E estruturalmente?
O que precisa ser feito para transformar é criar um processo de desenvolvimento para a Amazônia que seja parte de um projeto de desenvolvimento para o país. Para ter uma Amazônia conservada, inteligente, preservada, com 20 e tantos milhões de amazônidas, precisamos ter um projeto nacional, que se enquadra dentro de uma pressão internacional justa, adequada. Nós temos soberania, mas temos responsabilidades pelo que fazemos.
Para isso, temos que criar um processo de reflexão, de diálogo, de mapeamento de quem são os atores relevantes. São muitas Amazônias. Um zoneamento econômico-ecológico – sobre o qual, aliás, o Mourão está falando e espero que avance –, entender como podemos construir uma bioeconomia.
As grandes cadeias de negócios têm que estar envolvidas. Tem muita grande mineradora que não tem interesse em ver a Amazônia invadida por centenas de garimpeiros clandestinos, porque tem boa mineração a ser feita, minério que pode ser extraído de maneira responsável com o meio ambiente e a sociedade local. A Alcoa com a mina de Juruti está lá para mostrar.
A cadeia da pecuária tem que entrar para valer no processo de rastreabilidade de quem vende para eles. Eles não compram de quem produz em áreas desmatadas, mas quem vende para eles compra. Se Marfrig, JBS, Minerva não entrarem como parte da construção de soluções, não vai acontecer. Sem falar nos geradores de energia. E como você inclui a pequena produção local? Qual a logística básica que precisa? Tem tantas frentes, tem que ser construída essa visão, tem que ser trazido um setor privado que até hoje não foi.
As ONGs são fundamentais, mas elas sozinhas não produzirão a transformação. Você tem que trazer o business de fato, cada um com a sua responsabilidade, com transparência, mas com investimentos que saiam da casa dos milhões e ir para a casa dos bilhões.
Obviamente uma precificação de serviços ambientais faz parte do modelo econômico a ser construído, porque estamos produzindo um valor substantivo para muitas regiões do planeta, inclusive para nós aqui do Sudeste e do Centro-Oeste.
Isso é chave, não? Conseguir extrair um valor econômico da preservação, ou a lógica econômica vai contra a tentativa de se preservar.
É isso. A questão da precificação do carbono e dos serviços ambientais, sem isso não se tem um modelo de fato sustentável. Agora, no mundo, no pós-pandemia, a disposição para lidar com isso aumenta. A nossa capacidade de bem negociar infelizmente diminuiu junto com nosso prestígio e a nossa competência, mas as condições de contorno globais estão aumentando no sentido de encontrar formas de viabilizar a remuneração por esses serviços.
Mas já que do ponto de vista do setor público estamos prejudicados, o que o setor privado pode fazer? Algo está sendo feito?
A gente está envolvido num processo de mexer a panela, de trazer esses setores para o diálogo. Estamos dialogando com o governo também, sim.
Quando você fala “a gente” é quem?
Estamos, nesse momento, em fase de mapeamento de quem precisa ser trazido para a mesa. Um pouco Natura, um pouco [Instituto] Arapyaú, um pouco Maraé [family office], e parceiros que temos de biografia empresarial. O agronegócio, a Abag está muito envolvida. Estamos procurando identificar outros atores, dialogando com BNDES, com o Conselho da Amazônia, governadores. E já tem algumas conversas.
Não se faz nada sem Estado, evidentemente. Então estamos tentando entender como é o Estado em suas instâncias de governança, nos Estados, municípios, dos fundos. Para que a partir daí se consiga construir um norte, menos autocrático do que o “ocupar para desenvolver”. Você até consegue parar o desmatamento, reduzir significativamente, mas não sustenta se não criar esse modelo de desenvolvimento. Tem que ter investimentos de outro tamanho em pesquisa, desenvolvimento, inovação. Tem que criar conectividades usando novas tecnologias, mas que precisam se corporificar numa visão de futuro que ainda está faltando. É por aí que a gente acha que pode encontrar uma saída.
Então é uma tentativa de se fazer uma grande concertação?
É isso.
E qual o papel do setor financeiro?
A chave do cofre é sempre um instrumento de poder muito grande. Tanto é que essas declarações do Larry Fink [CEO da BlackRock] são repetidas ad nauseam. O setor financeiro é crítico. A gente já dizia quando se aprovou em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável [da ONU]: não é dinheiro de cooperação internacional, uns poucos bilhões de dólares que vão permitir que a gente se aproxime dos ODS. Tem que ser uma mudança de mindset, são os trilhões de dólares que estão por aí nos mercados, que têm que ser investidos com um novo filtro mais inteligente que de fato considere a questão social e ambiental. Achar que vai ser o dinheiro da filantropia internacional é brincadeira. Então, o papel do mercado de capitais, bancário, é crítico. Uma das alavancas é com certeza essa.
Você tem um portfólio de investimentos em que busca implementar o ESG e também é empresário de uma companhia aberta cobrada por esses aspectos. Quais são as maiores dificuldades para avançar no ESG no Brasil? E em qual estágio a gente está?
Acho que começa a crescer essa percepção de que os investimentos precisam trazer consigo algum valor, algum potencial de transformação. Que é o que a gente gostaria que fosse o mainstream. Tem que mostrar que dá certo para ver se tem gente que vai atrás. Sempre acreditei que empresas não vão ficar boazinhas por mote próprio. Acho que é super importante ter acionista consciente, faz toda diferença. Mas o que faz mudar é pressão dos próprios consumidores, dos cidadãos que têm o poder através de suas escolhas. Eu acredito nessa dinâmica virtuosa que tem que se criar. E a regulação tem que ser um estimulador, sem excesso de burocracia.









