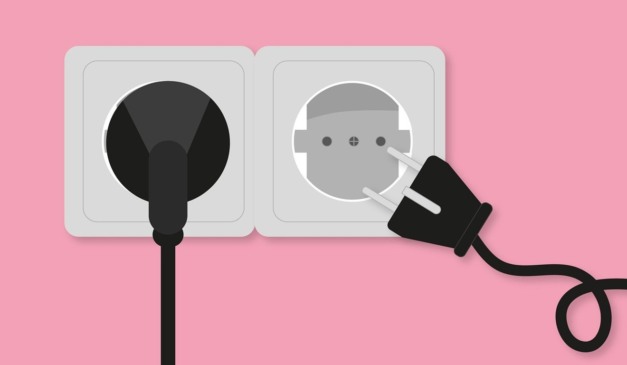A transição para uma economia de baixo carbono entra em nova fase. Com o avanço de estruturas regulatórias e mercados de carbono ao redor do mundo, a pergunta que se impõe é: quem está de fato pagando a conta das emissões de carbono que ainda não são precificadas? E por que produtos com menor intensidade de carbono, ao longo de todo seu ciclo de vida, ainda não incorporam um preço-prêmio proporcional ao seu valor climático?
O debate ganha urgência no momento em que a Comissão Europeia propõe uma nova meta climática para 2040: reduzir as emissões líquidas em 90% até 2040, frente aos níveis de 1990. Ao mesmo tempo, o Supervisory Body da UNFCCC estrutura os mecanismos do Artigo 6.4 do Acordo de Paris, e o Brasil avança com a criação de seu Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), a partir da Lei 15.042/2024.
Paralelamente, surge uma nova coalizão global, a Carbon Measures, que propõe rever os modelos tradicionais de contabilização de emissões, deslocando o foco da empresa para o produto, considerando intensidade, rastreabilidade e ciclo de vida completo.
Neste novo cenário, a lógica do “preço-prêmio climático” precisa ser reequacionada.
Não se trata de pagar mais pelo “verde”, mas de corrigir a distorção histórica de produtos cujas externalidades continuam invisíveis no preço final, uma distorção que distribui a conta do carbono não precificado.
Carbono invisível pago por todos
Produtos que não internalizam o custo do carbono seguem distribuindo suas externalidades – físicas, regulatórias e reputacionais – sobre o setor privado, o poder público e a sociedade civil. As emissões não tratadas acabam por amplificar os riscos climáticos, que se materializam em forma de prejuízos financeiros, desastres naturais e pressões regulatórias.
Essa lógica cria um efeito de “free riding”: empresas que ainda operam com alta intensidade de carbono competem em pé de igualdade com aquelas que já investem na transição.
O custo da inação é, portanto, socializado, enquanto os benefícios da eficiência climática permanecem subvalorizados no mercado. O resultado disso é, claro, desincentivo absoluto para investir na transição.
Sem demanda, sem escala para baixo carbono
A precificação do carbono, isoladamente, não gera transformação. É preciso haver demanda ativa por produtos e serviços de menor intensidade de carbono, seja via políticas públicas, compras públicas e institucionais, cadeias globais de valor ou exigências regulatórias.
Sem essa demanda explícita, não há escala de produção, não se viabilizam investimentos em modernização tecnológica e o ciclo de inovação climática fica travado por falta de incentivo econômico.
O desafio brasileiro, neste ponto, é claro: setores como agroindústria, mineração, químico, infraestrutura e construção civil só conseguirão se transformar se houver sinalização de mercado.
Produtos de menor intensidade de carbono precisam ser recompensados, não apenas reconhecidos como boas práticas.
Regulação e financiamento
A regulação pode e deve atuar como vetor de inovação. Ao impor metas de redução de emissões, intensidade de carbono ou integração de critérios climáticos em compras públicas e concessões, os governos empurram a inovação empresarial. Mas a regulação, sozinha, não garante transformação.
Ela precisa estar acompanhada de modelos de financiamento compatíveis com a transição, revisão de métricas de risco, garantias e retorno, e estímulos à descarbonização que sejam economicamente viáveis.
No caso brasileiro, a regulamentação do SBCE, o mercado regulado de carbono, é um passo importante, mas ainda insuficiente se não forem acompanhadas de reestruturação dos instrumentos financeiros que permitam a adaptação de empresas, especialmente de menor porte ou capital intensivo.
Empurrão do setor público
Compras públicas e concessões são ferramentas para ativar mercado.
Focando no Brasil, temos uma oportunidade estratégica ao alinhar nossa NDC 3.0 às políticas de compras públicas. Ao incluir metas de emissões em editais, concessões e contratos de fornecimento, o setor público pode (e deve) criar demanda concreta por produtos de menor intensidade de carbono.
Esse alinhamento é coerente com o avanço do CBAM europeu, que exigirá que bens importados para a União Europeia declarem as emissões incorporadas, com as metas brasileiras no Acordo de Paris, e com a necessidade de atrair investimentos externos alinhados a critérios ESG.
Exemplo concreto
Ao considerar emissões de gases de efeito estufa (GEE) em decisões de infraestrutura, como rodovias, o poder público e as concessionárias podem avaliar tecnicamente a substituição do pavimento flexível (asfalto) por pavimento rígido (concreto) em estradas brasileiras.
Estudo científico recente publicado na Revista do Ibracon conduzido na rodovia PRC 280, no Paraná, com base em análise de ciclo de vida, demonstrou que a adoção do pavimento rígido resultou em 40% menos emissões de CO2 e consumo energético 4,4 vezes menor ao longo de 20 anos.
A economia de emissões está diretamente ligada à menor necessidade de manutenção e à maior durabilidade do pavimento.
Contudo, essa decisão só se sustenta com visão de longo prazo. Se o olhar for limitado ao ciclo político de quatro anos e ao custo inicial, perdem-se os ganhos estruturais, climáticos e econômicos.
Nova fase da precificação de carbono
Estamos diante de um salto qualitativo. Segundo o Banco Mundial, há atualmente 75 instrumentos de precificação de carbono em operação mundialmente, cobrindo aproximadamente 24% das emissões globais. O CBAM começará a ser cobrado em 2026.
A frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos têm causado perdas expressivas a seguradoras e governos, vale refrescar a memória com o caso recente no interior de São Paulo que destruiu planta operacional em uma tarde de chuvas e ventos fortes, não havendo expectativa de retomada de operações por enquanto.
Iniciativas como a Carbon Measures reposicionam a contabilidade de carbono para o centro das decisões de mercado.
Essa nova fase exige repensar metodologias como GHG Protocol, ISO e SBTi. O foco se desloca do “escopo corporativo” para a contabilidade granular, por produto, com métricas de intensidade, rastreabilidade e integridade — e com impactos diretos na formulação de metas, investimentos e gestão de portfólio.
Para discutir preço-prêmio, a iniciativa da London Metal Exchange é emblemática: ao iniciar a construção de um mecanismo de diferenciação de preço para metais com menor intensidade de carbono, o valor climático dos produtos começa a ser precificado diretamente no mercado. Isso redefine margens, competitividade e risco.
Papel das lideranças
Para conselhos de administração e comitês de sustentabilidade, o momento exige mais do que conformidade: exige leitura de cenário e antecipação estratégica.
A nova fase da transição climática não será guiada apenas por metas voluntárias ou compromissos de longo prazo, mas por decisões de investimento, precificação, portfólio e inovação que internalizam o carbono como variável central.
Mais do que “acompanhar a regulação”, as lideranças precisam reposicionar o negócio em uma economia que começa a distinguir, de forma concreta, quem carrega o custo da transição e quem – ainda – transfere a conta para o sistema.
A transição para uma economia de baixo carbono não ocorrerá sem um mercado que valorize produtos com menor intensidade de carbono. Ela também não se sustentará se continuarmos a tomar decisões com horizontes de curto prazo, ignorando os custos reais das externalidades; tampouco prosperará sem a combinação de regulação inteligente (a tão almejada segurança jurídica!), instrumentos financeiros adequados e demanda orientada por critérios climáticos.
Corrigir as distorções de preço do carbono é urgente e o Brasil tem ativos ambientais, vantagem comparativa, conhecimento técnico e contexto regulatório para liderar, se quisermos.