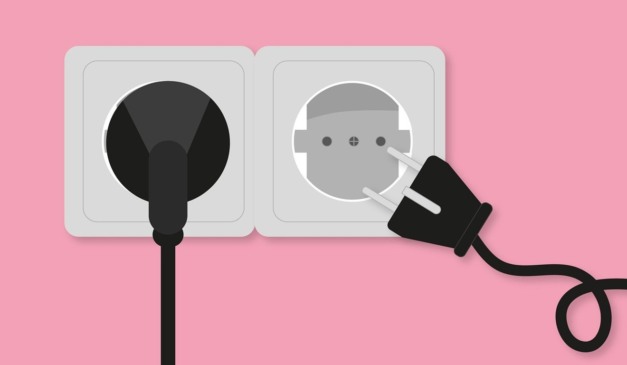O Ministério do Meio Ambiente promove, no fim de setembro, um seminário internacional para discutir como incorporar o “capital natural” às decisões financeiras, explorando mecanismos para “integrar o valor dos ativos ambientais nas estratégias de alocação de capital, gestão de riscos e avaliação de investimentos”.
O evento ocorre no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20. A iniciativa do Brasil de levar o debate ao fórum do G20 reflete a silenciosa, mas importante mudança na arquitetura da diplomacia financeira internacional.
Este tema assumiu papel central como novo mecanismo de governança e de ampliação da agenda dos bancos centrais e supervisores de mercados financeiros para enfrentar novos desafios à estabilidade do sistema financeiro mundial. E a discussão pode, muito provavelmente, acabar afetando os mandatos dos bancos centrais.
Anos atrás um seminário com esse objetivo causaria surpresa a banqueiros centrais experientes. Entretanto, a relação entre biodiversidade e risco financeiro é hoje mainstream nas discussões sobre finanças, clima e meio ambiente.
Como disse recentemente o presidente do Banque de France, François Villeroy de Galhau, em encontro de BCs para discutir o arcabouço conceitual de riscos financeiros relacionados à natureza:
“O consenso que atingimos aqui é tanto baseado na ciência, quanto motivado para encurtar o hiato de conhecimento na avaliação das implicações econômicas e financeiras dos riscos relacionados à natureza”.
E, citando Frank Elderson, do Banco Central Europeu, emendou que ”isso não é qualquer iniciativa do tipo ‘poder da flor’ ou de ‘abraçar árvores’. Isso é essencialmente economia.”
Para não restar dúvidas, nesse mesmo encontro o presidente do BC da Holanda afirmou categoricamente que “a degradação da natureza e os riscos financeiros a ela associados estão totalmente dentro dos mandatos dos bancos centrais”.
A responsabilidade dos bancos
Essas declarações não surpreendem por vários motivos. Em primeiro lugar, porque refletem preocupação legítima com os impactos econômicos ainda não propriamente avaliados do avassalador crescimento da destruição da biodiversidade global nas últimas décadas.
Cinco vetores principais afetam a natureza: mudanças no uso da terra (como desmatamento, urbanização, etc.); caça e pesca predatórias; mudança do clima; poluição, incluindo por produtos químicos na agricultura; e introdução maciça de espécies exóticas invasivas – enquanto a degradação ambiental causada pela erosão do solo e queda da disponibilidade de água doce crescem exponencialmente.
O sistema financeiro não é inocente em relação à redução da biodiversidade. Um estudo que mediu o impacto (a “pegada de biodiversidade”) do portfólio de atividades financiadas por 21 instituições francesas estimou que essas atividades foram responsáveis pela perda de biodiversidade terrestre equivalente a pelo menos à encontrada, em média, em 130 mil km2 de território “nativo” do país, ou ¼ da área das cidades na França
Em suma, essa discussão amplia o escopo das responsabilidades dos bancos centrais em relação a riscos sistêmicos de instabilidade financeira aparentemente exógenos ao funcionamento do sistema econômico, como já aconteceu em relação aos riscos da mudança climática, até pouco tempo ausentes da regulação prudencial.
Parece ter chegado a hora de se discutir, como quer o governo brasileiro, os efeitos da destruição do capital natural como externalidade negativa do funcionamento do sistema financeiro, e não apenas como consequência indireta da mudança do clima.
Os mecanismos de transmissão
A forma de incluir o risco ambiental – entendido tanto como risco financeiro derivado dos impactos da destruição do meio ambiente, quanto das consequências de ações de instituições financeiras sobre o meio ambiente – nos modelos de risco financeiro usados para supervisão prudencial de riscos sistêmicos pelos bancos centrais não deve ser diferente da abordagem tomada quando, em 2015, o G20 foi confrontado com a pergunta sobre o impacto de riscos climáticos e determinou ao seu Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), organismo que monitora e faz recomendações sobre a estabilidade do sistema financeiro global, que reunisse participantes públicos e privados para rever como o setor financeiro poderia levar em conta questões relacionadas ao clima.
Identificaram-se, na ocasião, três tipos de riscos. Os “físicos” e de “obrigações contingentes”, aqueles oriundos, respectivamente, de choques importantes ou catastróficos de eventos climáticos, ou de ações legais movidas com vistas a obter compensação por ações relacionadas à não-divulgação apropriada dos impactos climáticos das ações de agentes econômicos.
E os riscos “de transição”, considerados sistemicamente mais preocupantes, decorrentes do efeito cumulativo de possivelmente rápidas e generalizadas ações em antecipação à mudança do clima ou como consequência dela, gerando aceleradas e síncronas mudanças tecnológicas, de comportamento de consumidores, e de mudanças de regulação com efeito sobre o valor dos ativos financeiros.
A pergunta que preocupava os reguladores era se esses eventos, especialmente de forma cumulativa, poderiam provocar perda tão rápida do valor agregado dos ativos a ponto de ameaçar a estabilidade do sistema financeiro.
Ou, posto mais diretamente: poderiam as mudanças súbitas provocadas pela crise climática sobre o valor dos ativos gerar a percepção de que alavancagem do sistema financeiro teria se tornado insustentável, levando à aceleração das tentativas de desalavancagem, reduzindo ainda mais o valor de certos ativos ilíquidos e potencialmente provocando um “Climate Minsky Moment” — uma situação na qual o sistema financeiro não consegue reduzir o endividamento antes que credores de ativos líquidos subitamente percam a confiança em suas contrapartes, provocando uma crise de liquidez de efeito sistêmico?
A resposta do FSB a essa questão com o avanço da modelagem desses efeitos foi um sonoro “sim”.
Portanto, a pergunta hoje não é mais se os riscos climáticos são importantes para o sistema financeiro, mas em que situações o sistema será capaz de absorver prováveis choques de transição no caminho para net zero.
Isso exige antecipar riscos sistêmicos e quantificar seus impactos e feedback loops com modelos macroeconômicos e financeiros sofisticados por meio de testes de estresse, como já está sendo feito por um sem-número de bancos centrais.
O problema agora será estender esses modelos para levar em conta não só a mudança do clima, mas também a atual acelerada erosão do capital natural e perda de biodiversidade.
Em busca de modelos
O trabalho mais consequente até agora tem sido aquele desenvolvido pela Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). A entidade foi criada por 8 bancos centrais em 2017 e hoje conta com 138 membros, com o objetivo de fortalecer o atingimento das metas do Acordo de Paris promovendo boas práticas entre seus integrantes e o desenvolvimento de trabalhos analíticos sobre finanças verdes.
Sumariando o progresso de vários estudos, a NGFS publicou em 2022 uma declaração admitindo que “riscos relacionados à natureza (…) podem ter implicações macroeconômicas significativas e (…) o fracasso em levar em conta, mitigar e se adaptar a esses impactos é fonte de riscos tanto para instituições financeiras isoladas, quanto para a estabilidade sistêmica”. A rede constituiu uma força-tarefa que sintetizou recentemente essas conclusões em um relatório de resultados e recomendações.
Tal como no estudo do clima, os riscos de impacto sobre a natureza classificam-se como físicos e de transição. Também como no caso dos testes de estresse com clima, o grande avanço no estudo das interações com a natureza deve se dar com o aperfeiçoamento científico dos complexos modelos integrados de economia, clima e biodiversidade.
Resumindo enormemente, esses modelos tentam capturar os efeitos diretos e indiretos do comportamento da economia e de variáveis financeiras sobre os “serviços ecossistêmicos” proporcionados pela natureza à população como, por exemplo, produção de alimentos, matérias-primas e água potável, regulação do clima, água e qualidade do ar, polinização e controles de pestes e doenças, etc. e seus efeitos de feedback sobre o próprio sistema financeiro. Afinal, como lembrou Partha Dasgupta em seu monumental The economics of Biodiversity , “The world economy could not function without nature”.
Mas não se devem minimizar a complexidade dessas inter-relações e a necessidade de longo programa de pesquisa para suprir a falta de dados para analisá-las cientificamente.
Portanto, muito trabalho ainda existe pela frente. O passo hoje mais importante ressaltado por esses estudos é a necessidade da construção de cenários realistas para a modelagem de diferentes interações de modo a substituir as atuais análises setoriais e estáticas, alimentando modelos complexos que nos permitam melhor entender e avaliar os impactos da perda de biodiversidade em sua interação com a economia e o próprio meio ambiente.
Os desafios dos BCs
Apesar de ser inevitável estender o mandato dos bancos centrais para incluir os riscos ambientais, seus mandatos tradicionais – o compromisso com a estabilidade de preços e adequado nível de emprego, com uso da taxa de juros de curto prazo como instrumento – devem ser reforçados para uma transição bem-sucedida.
A ampliação dessas incumbências não dilui, mas sim reforça o mandato basilar da estabilidade com crescimento que depende fundamentalmente do equilíbrio fiscal de longo prazo que permite às autoridades monetárias atuarem, na ausência de choques de oferta passageiros, com metas de juros baixas por longo período.
Um ambiente de juros baixos e estáveis facilita a transição ao baixo carbono por dois motivos. Em primeiro lugar, é um incentivo ao investimento, fator essencial à transformação da estrutura produtiva na direção da redução da intensidade de carbono da economia.
Em segundo lugar, uma taxa de juros baixa torna o futuro mais importante no valor dos ativos, diminuindo a visão míope e incentivando empresários que apostam na economia do futuro. Por outro lado, um cenário como esse torna crucial a boa qualidade da informação aos mercados e a estabilidade dos incentivos da política do clima.
E sempre é bom lembrar que os bancos centrais não têm na mão todos os instrumentos para o sucesso de sua política de estabilização. Não controlam a política fiscal e muito menos os vários outros fatores que determinam a taxa de juros “de equilíbrio macroeconômico”.
Como se costuma dizer, os bancos centrais são atores em uma peça escrita por outros. Isso é especialmente verdadeiro no caso dos desequilíbrios climáticos e da natureza. Por isso, a regulação prudencial e a melhora da informação aos agentes sobre os efeitos da destruição da natureza são cruciais para permitir aos BCs trabalhar mais efetivamente para o equilíbrio financeiro.