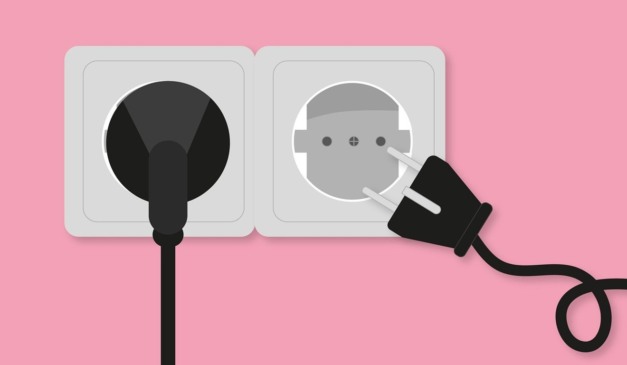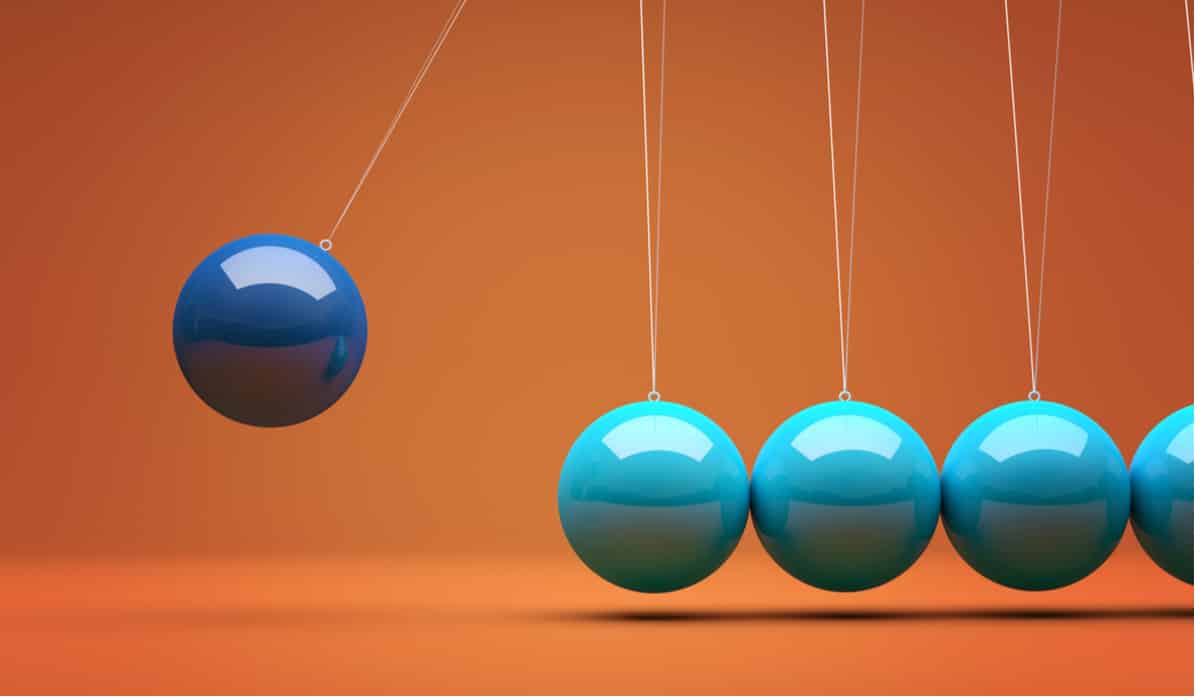
Se você é cliente, trabalha ou conhece gestores de patrimônio, já ouviu algum argumento sobre a importância de “dolarizar a carteira”, “mover o patrimônio para um portfólio offshore” ou “reduzir a exposição ao Brasil”. Trata-se de uma estratégia de gestão bastante difundida entre alocadores de longo prazo e, sempre que me deparo com ela eu fico incomodado.
Note que, tecnicamente, o argumento não só é válido, como dá resultados e se tornou quase o livro-texto padrão para alocadores que se inspiram em David Swensen, antigo CIO do endowment da universidade de Yale.
Mas se a estratégia funciona para o propósito que ela serve, de onde vem o incômodo?
Meu incômodo com este tipo de argumento não está no “o que” mas sim no “por que”. Ou seja, o que me incomoda não é a estratégia em si, mas justamente o propósito por trás dela e as premissas que guiam esse propósito.
Uma gestora de patrimônio existe para cuidar da riqueza construída por famílias que a contratam. Gerenciar os recursos de uma família da mesma forma como um endowment universitário é estabelecer paralelos sem uma reflexão mais profunda sobre o mandato daquele dinheiro.
Swensen tinha como missão perpetuar os recursos de uma instituição e gerar retornos financeiros que subsidiem suas atividades. Yale é uma universidade de renome, parte da famosa Ivy League, e além da excelência acadêmica, a instituição tem objetivos ousados como atingir a neutralidade de carbono (“net zero”) até 2030 e atingir zero emissões (“true zero”) até 2050. Tudo isso custa bastante dinheiro e equilibrar os dois comandos (perpetuar e financiar) exige uma capacidade de gestão que fez Swensen atingir o patamar de lenda para o mercado financeiro.
Um gestor de um fundo de pensão tem desafios semelhantes. Fundos de pensão existem, em última instância, para pagar aposentadorias dos seus participantes. Investir os recursos de trabalhadores hoje para garantir que eles consigam preservar seu padrão de vida durante uma fase em que eles não vão poder (ou querer) ser economicamente ativos é um objetivo louvável.
Organizações como fundos de pensão, endowments, seguradoras, fundos soberanos, entre outros, são organizações constituídas com um propósito claro para além dos retornos financeiros. Dado o tamanho de seus recursos e o prazo ao longo do qual seus objetivos são perseguidos, esse tipo de organização é chamado muitas vezes de “universal asset owner” ou “detentor universal de ativos” em uma tradução literal.
Com o crescimento de famílias cujo patrimônio supera a casa dos bilhões (e com a expectativa de termos o primeiro trilionário do mundo nos próximos anos), a gestão de patrimônio familiar atingiu patamares que rivalizam com os de instituições como as descritas. Mas se o tamanho dos recursos fez com que as práticas de gestão acompanhassem as de investidores institucionais, nem sempre se pode dizer o mesmo do propósito.
E é aí que reside meu primeiro incômodo: gestores de patrimônio, muitas vezes, assumem que o propósito de seu trabalho é perpetuar e maximizar os recursos que lhe foram confiados.
Em “Elements of an Investment Policy Statement (IPS) for Individual Investors” o CFA Institute traz os elementos necessários para a construção de uma política de investimentos para uma família ou indivíduo, citando objetivos de investimento de longo prazo, taxas esperadas de consumo dos recursos (spending rate), perfil de risco dos detentores do patrimônio, entre outros. No entanto, uma leitura atenta do documento mostra que não existem perguntas como: Que legado você, como indivíduo ou família, quer deixar para o mundo? Em que mundo você gostaria que os herdeiros de seus recursos vivessem? Que tipo de realidade você quer construir com esse dinheiro?
Se esse tipo de questionamento não é feito, gestores de patrimônio acabam se apoiando no sistema de crenças que construiu o mercado financeiro como ele é hoje. E é aí que mora meu segundo incômodo.
Uma das crenças de base do mercado é a amoralidade do dinheiro. Nesta crença, o dinheiro não é bom ou ruim, ele é amoral. Se você for um participante justo do mercado, cumprindo leis e regulações, dando transparência para o que faz e com a governança adequada sobre suas decisões, não existe nenhum tipo de questionamento sobre quais atividades você financia. Seu trabalho é arbitrar diferenças entre preço e valor dos ativos, descorrelacionar alocações, e maximizar a quantidade de dinheiro que você tem. Nesta crença, a vida é muito mais simples: mais é, simplesmente, melhor.
Hoje os avanços acadêmicos no campo da economia já provaram que (1) o homo economicus não existe, não somos atores racionais maximizando utilidade, somos afetados por nossos vieses e crenças, (2) nem sempre a organização através de mercados livres produz os melhores resultados de coordenação das atividades de uma sociedade, e (3) a decisão sobre como alocamos recursos, sejam de investimentos privados ou de políticas públicas, tem impacto sobre e é impactada pela sociedade e o planeta.
Portanto, o dinheiro não é amoral. A decisão de alocação é uma decisão de fundo ético, e não ter consciência sobre isso não nos isenta da responsabilidade sobre as consequências do nosso comportamento. Logo, um gestor de patrimônio não é um mero expectador do mercado observando o comportamento estatístico de seus ativos, ele é corresponsável pela realidade que os recursos sob sua gestão produzem.
O que me leva ao terceiro e último incômodo. Gestoras de patrimônio que vendem este tipo de argumento, fazem gestão de patrimônio de famílias que construíram suas fortunas no Brasil. São famílias empreendedoras, responsáveis pela construção de companhias e soluções importantes para o país e cujo sucesso foi fruto também das condições que o país lhes ofereceu (acesso a capital humano, a recursos naturais, a incentivos fiscais…). Ter como parte de seu trabalho convencer essas famílias a tirar o dinheiro do país alimenta uma lógica extrativa de gestão de recursos.
O capitalismo como vivemos hoje é permeado por vários desses fluxos extrativos: (1) o norte global obtém mais dividendos de multinacionais e de exploração de recursos naturais de economias do sul global do que retorna em consumo, investimento ou assistência; (2) a tributação regressiva no Brasil faz com que pobres paguem percentualmente sobre sua renda mais imposto do que ricos, tornando o governo um agente gerador de desigualdade; (3) a exaustão do modelo de desenvolvimento intensivo em carbono operado por países ricos impõe aos países pobres os custos sociais da transição climática. Isso apenas para citar alguns exemplos.
Normalmente famílias não são provocadas a pensar sobre isso no campo dos investimentos. Como o mercado financeiro é “frio e amoral”, a responsabilidade e as reflexões morais e sobre legado acabam sendo reservadas aos belíssimos trabalhos filantrópicos que muitas delas fazem. Ao viver essa separação entre o dinheiro “com impacto” e o dinheiro “sem impacto”, muitas perdem a potência que a consciência de que todo o dinheiro tem impacto pode gerar para as transformações que elas mesmas muitas vezes buscam.
Não sou contra investir no exterior ou um defensor ferrenho de “Make Brazil Great Again”. Na minha atividade como investidor eu possuo mandatos para investir em temas como biotecnologia, saúde ou transição energética em ecossistemas onde há mais liquidez, pesquisa, inovação e atividade empreendedora que o Brasil. É natural que alguns mercados ainda subdesenvolvidos aqui talvez necessitem de incentivos e capital oriundos de outras fontes, como apoio governamental, antes de se tornarem objeto de investidores de capital privado. Ademais, a globalização e o intercâmbio de práticas, informações e propriedade intelectual entre economias foram em grande medida positivos para o desenvolvimento e seguirão sendo (se a política externa norte-americana permitir).
O propósito deste artigo, portanto, não é defender que não se invista fora do Brasil ou que não existam estratégias globais de alocação. Minha intenção, na realidade, é alertar que a decisão de não investir ou de reduzir significativamente o volume de investimentos, não é uma decisão sem consequências.
E, havendo consequências, gestores de patrimônio e as famílias que os contratam, se beneficiariam ao refletir sobre qual é o propósito que gostariam que seus recursos cumprissem. E, se esse propósito for exclusivamente baseado na visão de Milton Friedman de que “a responsabilidade social dos negócios é aumentar seus lucros”, que isso seja explicitamente declarado. Porque as gerações que farão parte do “longo prazo” que orienta nossas decisões hoje, nos julgarão tanto pelas consequências das nossas ações, quanto por nossas intenções.
*Gilberto Ribeiro é sócio e COO da Vox Capital.