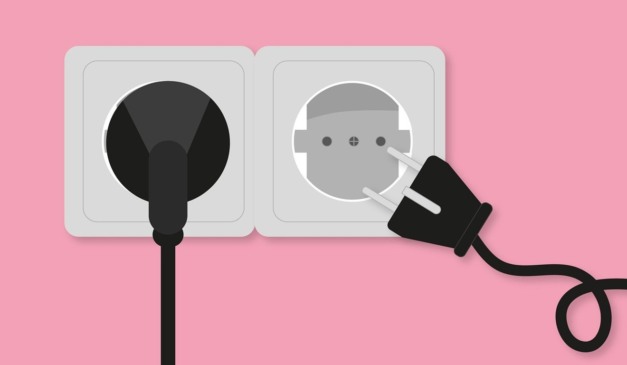A Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu recentemente parecer – tecnicamente, uma Opinião Consultiva – em que estabelece um marco ao reconhecer a emergência climática como uma questão de direitos humanos, o que pode ter implicações jurídicas para as empresas.
O documento reforça que os Estados têm o dever de garantir o direito ao clima estável como parte do direito humano a um ambiente saudável, agindo – com base “na melhor ciência disponível” e ante o princípio da precaução – para evitar danos irreversíveis. A Corte Internacional de Justiça, da ONU, emitiu parecer na mesma linha poucos dias depois.
O parecer me fez lembrar da obra seminal de Christopher Stone, “Should trees have Standing” (numa tradução literal, “Deveriam as árvores ter legitimidade processual”). Quando lançado, em 1972, o livro foi recebido com certa benevolência, com uma espécie de brandura de quem lida com uma travessura jurídica – audaz, mas inconsequente e inofensiva, por assim dizer.
Quando o li, em 1992, em meio à Eco 92, a impressão que tive então foi a de uma obra que, embora sólida em sua costura teórica, era quase lírica em seus propósitos, com traços juvenis, subversivos, iconoclastas. Li um manifesto belo, mas, sob certa perspectiva, “inútil”.
Reler a obra mais de 30 anos depois me remeteu a um chiste atribuído a Mark Twain: “Quando tinha 16 anos, constatei que meu pai era um imbecil. Quando fiz 30, percebi o quanto ele tinha melhorado”. Pois, agora, décadas depois de escrito, o livro não parecia mais cândido ou naive. “Subitamente”, a obra amadurecera, passara a revelar o Zeitgeist, o espírito dos tempos e da época em que se vive.
A Natureza como sujeito de direitos e, pois, apta a defendê-los, era do que se cogitava no livro. Estranhável? Bem, sustentava o autor, a História trazia um punhado de grupos sociais que, despidos de direitos elementares por séculos, passaram a adquiri-los (ou a vê-los reconhecidos), não sem a resistência do establishment.
No contexto dos EUA, o autor os desfia: crianças, mulheres, negros, orientais, indígenas, “alienados” de todo gênero, encarcerados – coletivos cujas “qualidades intrínsecas”, segundo o olhar de então, os tornavam inaptos a usufruírem de direitos plenos, ou direitos quaisquer.
Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a certas ficções jurídicas, como empresas ou organizações civis, eram atribuídos direitos patrimoniais e mesmo morais.
O fato é que, atualmente, cresce o movimento pelos Direitos da Natureza, que deixa o campo da retórica jurídica e se apresenta com pretensões transformadoras de ‘direito que quer se fazer valer’. Ele já não é visto com ceticismo, mas, no vasto espectro das ciências humanas, sociais e ecológicas – é percebido como esperança ou ameaça.
O Eco Jurisprudence Monitor, que monitora tais iniciativas legais em todo o mundo, detalha 156 iniciativas pelos direitos da natureza apenas nos Estados Unidos. Entre elas está a resolução de 2019 da Tribo Yurok, que declarou os direitos do Rio Klamath de “existir, florescer e evoluir naturalmente” e “ter um ambiente limpo e saudável, livre de poluentes
Em 2008, o Equador revisou sua constituição para reconhecer os direitos da natureza e tornar o país o garantidor desses direitos. Em 2021, o Tribunal Constitucional equatoriano decidiu que a mineração de ouro em certa área violaria os direitos de uma floresta e seu sistema fluvial associado. A decisão forçou duas mineradoras a abandonarem suas reivindicações sobre a área.
Em 2017, o rio Whanganui, em Aotearoa, a palavra maori para Nova Zelândia, foi reconhecido em um ato parlamentar como uma “entidade espiritual e física”.
No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não está indiferente ao tema. No Recurso Especial 1.797.175, a 2ª Turma da Corte, citando lições de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, em decisão unânime assim se pronunciou:
“Diante da crise ecológica (…) e das novas configurações morais e culturais impulsionadas pelos valores ecológicos (…), deve-se refletir sobre o conceito kantiniano, antropocêntrico e individualista de dignidade humana, ou seja, para incidir também em face dos animais não humanos, bem como de todas as formas de vida em geral, à luz da matriz jusfilosófica biocêntrica (ou ecocêntrica), capaz de reconhecer a teia da vida que permeia as relações entre ser humano e natureza”.
Recentemente, por meio de uma ação proposta por diversas entidades da sociedade civil, a Corte Constitucional Colombiana proferiu a sentença T-622 de 2016, na qual reconheceu o rio Atrato como sujeito de direitos e impôs sanções ao poder público em razão da omissão quanto aos atos de degradação causados por uma empresa contra o rio, sua bacia e afluentes.
Como que a chancelar essa tendência, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da já referida Opinião Consultiva sobre Emergência Climática e Direitos Humanos (OC-32/25) publicada no dia 3 de julho, no capítulo intitulado “La protección de la Naturaleza como sujeto de derechos”, estabeleceu o seguinte:
“En tal sentido, el reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos constituye un desarrollo normativo que permite reforzar la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la triple crisis planetaria y facilitando la prevención de daños existenciales antes de que alcancen un carácter irreversible”.
Embora Opiniões Consultivas não sejam vinculantes, no Brasil o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que elas se apresentam como orientação sobre a interpretação e aplicação da norma a ela relacionada, incorporando-as em sua jurisprudência, com irradiação para os demais tribunais.
Nesse contexto, o que essa tendência pode significar em termos práticos?
A opinião consolida um entendimento jurídico que pode pressionar governos e, indiretamente, o setor privado a adotarem medidas mais rigorosas e eficazes. Como o STF costuma considerar em suas decisões interpretações da Corte Interamericana, isso sugere que empresas podem enfrentar maior risco de litígios baseados em violações de direitos humanos decorrentes de impactos climáticos.
Uma área jurídica por séculos prevalente na sociedade ocidental, o Direito Canônico levava em conta, e seriamente, o direito dos animais, “criaturas de Deus, como nós”. Em seu tratado Des exorcismes, de 1497, o teólogo suíço Felix Hemmerlein (1389-1457) relatava:
“Nas cercanias da cidade de Coire, ocorreu uma súbita irrupção de larvas (…). Elas entram na terra no começo do inverno, atacam as raízes, mergulhando nelas o dente assassino, de tal maneira que, no final do verão, as plantas, longe de desabrochar, ressecam. (…). Em vista disso, os habitantes citaram esses insetos destruidores diante do tribunal provincial, por intermédio de três editos consecutivos; eles lhe atribuíram um advogado e um promotor, observando as formalidades da justiça, e depois procederam contra eles com todas as formalidades requeridas. Finalmente, o juiz, considerando que as referidas larvas eram criaturas de Deus, que tinham direito a viver e que seria injusto privá-las de subsistência, relegou-as uma região florestal e selvagem a fim de que, doravante, não tivessem pretexto para devastar as terradas cultivadas. E assim foi feito”.
Em cenário hipotético, não mais à luz do Ius Canonicum, mas do Direito contemporâneo, em tese não seria de se afastar a possibilidade de que, representados pelo Ministério Público ou outro legitimado (art. 5º da Lei 7.347/85), rios, florestas e milhões de espécies de fauna e flora se apresentem em juízo postulando o direito de se protegerem de danos ou ameaças presentes ou futuros.
Arthur Schopenhauer dizia que toda ideia grave e inovadora passa por três fases: primeiro, ela é ridicularizada (“coisa de nefelibatas, hippies, irresponsáveis”); depois, ela é violentamente atacada (“quebrará a indústria”, “inviabilizará o desenvolvimento”); por fim, ela se estabelece como lugar comum.
Nesse contexto, há duas questões em busca de resposta. A primeira é saber se um dia se estabelecerá como lugar comum a possibilidade de que direitos da natureza sejam pleiteados e reconhecidos em juízo, inclusive à vista de danos relacionados às mudanças climáticas. E isso não à conta dos serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta, mas, sim, por seu valor intrínseco, suficiente e valioso em si mesmo. A segunda é que consequências advirão daí. A ver – ao que parece, ao menos em termos relativos, em breve.
*Oscar Graça Couto é advogado e professor de Direito Ambiental da PUC-Rio.