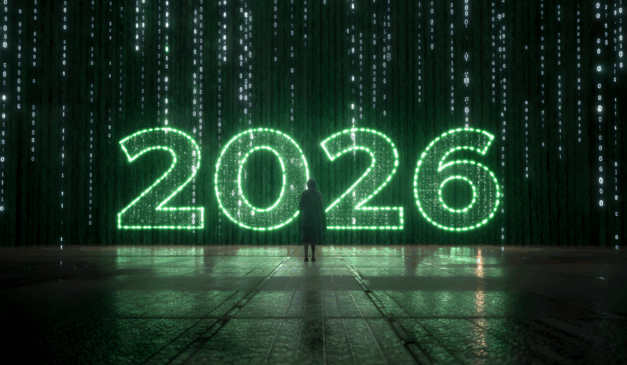A ressaca dos ativistas climáticos depois da vitória maiúscula de Donald Trump é fruto de uma análise emocional que projeta as políticas do próximo governo americano com base no discurso do candidato e não nas restrições sob as quais ele objetivamente operará.
A liderança unilateral americana desde o fim da Guerra Fria vive hoje uma época em que o melhor cenário para sua sobrevivência seria uma espécie de Segunda Guerra Fria. Este cenário será, como disse George Orwell em seu brilhante artigo de 1945 sobre o pós-guerra, “um período de paz que não é paz”, porque mantida por instável equilíbrio do poder de destruição.
A vitória americana na versão anterior de Guerra Fria foi possível pela indisputável superioridade de sua economia sobre o engessado e corrupto modelo soviético que, de fato, não foi vencido, mas implodiu sob o peso de tensões internas crescentes.
Mas, mantidas as tendências atuais, Trump não repetirá Ronald Reagan. Algo como a repentina queda do muro de Berlim é impensável no horizonte previsível contra o novo “inimigo”.
A China, com seu camaleônico, mas objetivamente eficiente modelo de governo, é hoje responsável por nada menos do que 38% da produção mundial de manufaturas, o dobro da dos EUA, e lideram cabeça a cabeça em todas as áreas de fronteira da atual revolução tecnológica. Se transitar com estabilidade para seus novos padrões demográficos, a China, em poucos anos, será formidável competidor dos americanos pela liderança econômica mundial.
A mais longo prazo, em um horizonte de uma ou duas décadas, a Índia, país mega populoso e de baixíssima renda per capita, que começou a trilhar o caminho da China de crescimento rápido baseado no seu enorme bônus demográfico, deverá se juntar ao grupo. E com um governo nacionalista que sinaliza querer definir o lugar da Índia como potência na emergente arquitetura de poder internacional.
Mesmo se os inacreditáveis níveis relativos de gastos militares dos Estados Unidos, que mantêm a Pax Americana, forem reduzidos em resposta ao seu grande stress fiscal, Cold War II continuará o cenário provável, se desconsiderarmos o cenário improvável de uma autoimolação nuclear.
O conflito estratégico inevitável dos Estados Unidos com essas duas potências emergentes se dará, a curto prazo, com a China e será mais econômico do que militar e, portanto, lutado no único fórum multilateral existente para tratar de conflitos econômicos em contextos de crise: o G20.
O clima na agenda do G20
O cada vez mais urgente problema do clima é, como reconheceu há dias o próprio Secretário Geral da ONU em seu discurso na abertura da COP da UNFCCC, em Baku, “um problema do G20”, responsável por quase 80% das emissões do mundo.
China e Índia, grandes economias com alta intensidade de carbono e crescendo muito em relação ao resto do mundo, em 2023 foram, em conjunto, responsáveis por metade das emissões do G20 e por quase todo seu crescimento. Sem a redução rápida das emissões desses dois países na próxima década, não serão atingidos os objetivos do Acordo de Paris.
Felizmente, esses dois países encaram o problema do clima com políticas ativas. Veem o desafio do clima como uma oportunidade sob a ótica que, na análise das industrializações tardias, se chama de “vantagens do atraso”: a transformação produtiva que permite a países mais atrasados crescer rapidamente pela absorção de tecnologias de fronteira. No caso, aquelas que permitem a redução marginal da intensidade de carbono.
A China, apesar de ainda ser o país que mais contribui para o aumento das emissões, vem produzindo resultados espetaculares na direção do net zero com políticas industriais ativas, especialmente no campo crucial da eletrificação verde.
Na última década, a substancial taxa de investimento real na China permitiu reduzir suas emissões em 3 gigatoneladas, um esforço de transição energética que deve continuar em resposta a ameaças europeias de introdução da tarifa compensatória de emissões (CBAM).
Na Índia, a prioridade é o crescimento, que não será necessariamente limpo a curto prazo. Precisam crescer rápido para manter a estabilidade do regime democrático nesta gigantesca transformação social que se inicia e, para isso, têm que utilizar a base produtiva existente montada sobre o carvão.
Mas as lideranças indianas enxergam a mudança do clima também como uma enorme ameaça. A índia é talvez o país mais afetado pela mudança climática: o mar empurra Bangladesh para o norte, o derretimento de geleiras está mudando o fluxo de rios e a época das monções, calor e poluição ameaçam tornar quase inabitáveis suas grandes cidades ainda em rápido crescimento.
Assim, mesmo ainda sendo grandes emissores, os indianos vão ser protagonistas e não caronas na luta contra o aquecimento global. E começam esse esforço a partir de uma base importante de ciência e tecnologia e vão usar a transição energética – inclusive em biocombustíveis – como alavanca de crescimento. Ainda bem, pois a repetição na Índia do experimento chinês, de elevação rápida da renda per capita baseada numa matriz energética a carvão, significaria dar adeus aos objetivos do Acordo de Paris.
Em resumo, é improvável que China e Índia não consigam resultados muito positivos em suas políticas de transição energética. Ao contrário, deverão em alguns anos começar a reduzir aceleradamente suas emissões.
Por outro lado, o pragmatismo visceral de Trump num mundo com crises superpostas, deverá orientar suas políticas para resultados de curto prazo, em temas da segurança internacional – em particular os conflitos na Ucrânia e Oriente Médio – economia e imigração, que movem a opinião pública americana.
Na área do clima, é improvável que, além de uma quase certa nova retirada simbólica dos Estados Unidos do Acordo de Paris e algum corte nos programas de investimento climático dos democratas, a eleição de Trump tenha consequência negativa sobre os crescentes investimentos na transição americana – que, como em outros países, são vistos como oportunidade e estratégicos a longo prazo – ou implicará em retrocesso das negociações no âmbito do acordo.
Aqui, importantes progressos, como a regularização do comércio mundial de carbono no âmbito do seu Artigo 6 e outros avanços regulatórios, acontecerão nos próximos anos, com ou sem a participação americana. Ou seja, nada muda de substantivo.
Entretanto, o abandono do Acordo de Paris pelos Estados Unidos deve reforçar a importância do G20 como fórum de negociações do clima. O tema já vinha subindo de importância na agenda há alguns anos e consolidou-se como prioridade pela ativa liderança do Brasil ao longo de sua presidência.
O apoio da vasta maioria de países do grupo engajados em achar soluções cooperativas para a questão do clima e de todos os organismos multilaterais ao trabalho da Task Force Clima permitiu que, pela primeira vez, os Ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais se juntassem aos Ministros do Clima para alinhar a governança climática e financeira, produzindo resultados de grande alcance.
A simbólica participação de Joe Biden e Xi Jinping na cúpula do Rio é um atestado deste trabalho da liderança brasileira no progresso da agenda do clima no âmbito do grupo. Tanto como a intempestiva reação argentina contra as resoluções aprovadas ilustra o que deve vir pela frente no G20.
O Brasil já definiu sua posição. Como um líder mundial no debate climático em virtude de sediar a COP30 em 2025, simbolicamente realizada na Amazônia, sublinhando a importância da conservação de florestas tropicais, um tema central para a transição brasileira e para a estabilidade global do clima.
Nesta posição de liderança, o Brasil deveria superar a desesperança deste momento e aproveitar ao máximo a cúpula de líderes do G20 para conseguir apoio ao TFFF, o Fundo de Financiamento de Florestas Tropicais proposto pelo Brasil – que, se implementado, talvez seja a iniciativa de maior impacto global sobre clima e biodiversidade na história das ações multilaterais do clima.
A cúpula do Rio fornece ao Brasil, na despedida de sua presidência do G20, uma oportunidade ímpar de conseguir compromissos substanciais de financiamento dos principais países ricos capazes de deslanchar o processo de captação do fundo.
E, sem ser uma iniciativa no âmbito da UNFCC, mas do G20, a participação dos Estados Unidos não estaria a priori prejudicada por um eventual abandono do Acordo de Paris pela nova administração