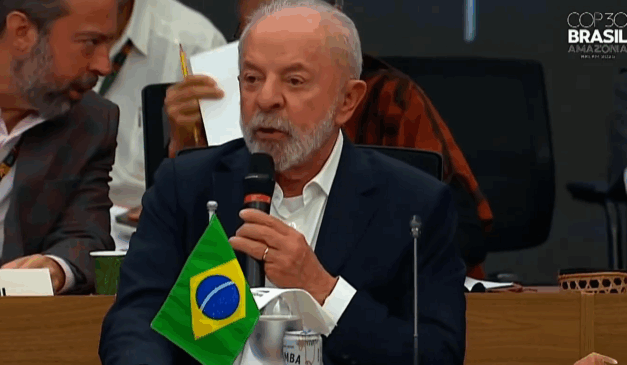A nova economia tem novos donos. Mais por necessidade que por crença, a crise climática, a insegurança alimentar e a perda de biodiversidade impõem a mudança de um modelo econômico, antes baseado na extração de recursos naturais, para outro, orientado pela preservação e regeneração. Essa mudança será vista não somente em modelos de negócio, mas também em centros de poder. Ou deveria.
Da mesma forma que os industriais e a Inglaterra estavam no centro econômico e político da Revolução Industrial, é a floresta e os povos que nela habitam que estão no centro da produção de serviços ecossistêmicos que nos possibilitarão alimentos e um clima habitável.
Segundo o World Resources Institute (2023), os territórios indígenas e de comunidades tradicionais concentram 54% das florestas intactas do planeta sob sua posse ou gestão. Nessas terras, as taxas de desmatamento caem drasticamente e o custo-benefício climático supera o de políticas públicas convencionais.
Embora muitas vezes chamados romanticamente de “guardiões da floresta”, a verdade é que os povos indígenas e comunidades tradicionais são seus legítimos donos, ou, de acordo com sua cosmovisão, são parte dela.
Mas a centralidade de sua importância nessa nova lógica econômica não se reflete ainda em indicadores financeiros e sociais. Com quase meio bilhão de pessoas, a população indígena representa cerca de 6% da população global e concentra 18% daqueles em extrema pobreza, com expectativas de vida que podem ser até 20 anos menores que a média nacional em alguns países (Banco Mundial, 2025).
E, nem mesmo no próprio fluxo de financiamento climático, que deveria ser mais sensível ao tópico, o ponteiro parece se mexer: entre 2011 e 2021, menos de 1% do financiamento climático global chegou diretamente aos povos indígenas e comunidades tradicionais (RFN, 2021). Essa disparidade, que era previsível na dinâmica da economia anterior, tornou-se insustentável – moral, climática e economicamente – na configuração da nova economia.
TFFF – uma nova lógica de arquitetura financeira e de poder?
O Tropical Forests Forever Facility (TFFF), se bem-sucedido, pode mudar isso. É um mecanismo baseado em resultados: recompensa países de florestas tropicais que controlam o desmatamento e preservam suas florestas. A estimativa é que o TFFF mobilize até US$ 125 bilhões de recursos com pagamentos atrelados à manutenção da floresta em pé.
Usando o cenário simulado pela NDC brasileira (a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa do país), que prevê taxa de desmatamento zero em todos os biomas e degradação controlada em 2030, o pagamento projetado poderia chegar a R$ 7 bilhões por ano para o Brasil. Desse valor, no mínimo 20%, ou cerca de R$ 1,4 bilhão, devem ser destinados diretamente aos nossos povos indígenas e comunidades tradicionais, em contas segregadas e com governança própria.
Essa destinação obrigatória é apenas um primeiro passo, mas carrega um simbolismo profundo. Ela anuncia uma decolonização possível, não apenas simbólica, mas financeira, institucional e política. Representa o início de uma transferência direta e material de valor. O verdadeiro teste será saber se o eixo de poder sobre esse capital natural e financeiro também mudará de lugar.
Colocando em perspectiva: qual seria o salto em governança e escala?
Ainda que seja difícil obter dados precisos de repasses diretos atuais aos povos indígenas e comunidades tradicionais, um detalhado e excelente relatório – “Raízes do Bem Viver” (SEFRAS, 2025) – mostra que essa transformação de governança já começou no Brasil.
Foram identificados 54 mecanismos financeiros que transferem recursos diretamente a povos indígenas e comunidades tradicionais. Entre eles, a rede de fundos comunitários da Amazônia, como os Fundos Dema, Babaçu, Podáali, FIRN, Rutî e Jaguatá, funciona como instrumento de autonomia e redistribuição local, com governança própria, e gerenciou cerca de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023.
Nos últimos anos, esse valor vem crescendo. Segundo dados recentes da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia, os nove fundos ativos que compõem a rede já beneficiaram diretamente mais de 400 mil pessoas e mobilizaram mais de R$ 30 milhões em recursos.
Em um panorama mais amplo de financiamento, o Fundo Amazônia, que investiu R$ 2,9 bilhões em 17 anos em ações de prevenção e combate ao desmatamento, ainda enfrenta obstáculos para desembolsar recursos de forma direta. A análise da InfoAmazonia (2025) indica que apenas 4 dos 119 projetos aprovados (cerca de 3%) foram propostos e geridos por associações indígenas.
Apesar dos avanços mais recentes e das ricas experiências dessas iniciativas, o ponto crucial permanece: ainda vem sendo desafiador dar um salto de escala na gestão direta dos recursos.
Desafios: Floresta S.A. ou algo diferente?
Se o TFFF cumprir o prometido, os povos da floresta precisarão gerir recursos em escala inédita, da ordem de R$ 1 bilhão ao ano, muito superior às dezenas de milhões atuais. Além da escala, temos desafios para entender uma nova lógica de gestão de riqueza.
Estaríamos diante de uma tradicional “Floresta S.A.” ou de algo completamente novo?
Podemos sumarizar em três, os desafios – e oportunidades – oriundos dessa mudança de escala e da lógica.
O primeiro desafio é de desenho institucional, atrelado ao que se quer fazer com esses recursos. São três as principais dimensões dessa pergunta: horizonte, tipo de investimento e nível de agregação.
- Horizonte: longo ou curto? O desenho irá ultrapassar a lógica atual de mera transferência de recursos ampliando também para mecanismos patrimoniais (tipo endowment)? Fundos endowment seriam capazes de investir o principal, gerar rendimentos e financiar ações de forma contínua e previsível, menos suscetíveis à volatilidade política e o “curto-prazismo” para que de fato atendam aos planos de vida de longo prazo de cada povo e comunidade.
- Tipo de investimento: transferências, empreendimentos, crédito, economia digital? Os recursos poderiam ir para desde investimentos diretos na subsistência dos povos e em sua segurança alimentar, passando também por investimentos em bioeconomia florestal, fortalecendo associações já estabelecidas como a Wiñak ou Instituto Yorenka Tasorentsi. Ou poderiam ir além, investindo em ativos de créditos de cooperativas, ou até em investimentos tecnológicos, como plataformas de tokenização de serviços ecossistêmicos, a exemplo da Savimbo, que lançou os primeiros créditos de biodiversidade indígena certificados do mundo. O céu de criatividade de diversificação de investimentos é o limite.
- Nível de agregação: fundos consolidados ou vários pequenos? Aqui há uma escolha estratégica a ser feita: agregar ou desagregar. Devemos pensar em um fundo nacional, com governança integrada e capacidade de captação em larga escala, ou em múltiplos fundos territoriais menores, conectados ou não em rede e ancorados em realidades regionais e locais?
A lógica do “small is beautiful”, que moldou o campo socioambiental por décadas, pode ser definitivamente superada. O equilíbrio entre eficiência financeira e representatividade territorial será decisivo para o sucesso do modelo.
Governança e capacitação
O segundo desafio é a governança. A experiência internacional mostra que programas voltados a povos indígenas prosperam quando unem autonomia local e rigor técnico. As boas práticas da OCDE, conhecidas como governança multi-nível, recomendam que a estrutura de decisão seja culturalmente compatível com as formas de organização comunitária e sustentada por instituições eficazes, com clareza estrutural, capacidade técnica e autonomia decisória. Conselhos mistos pautados pela diversidade em seus vários aspectos, com representantes indígenas e de comunidades tradicionais, especialistas financeiros e auditores independentes, são essenciais para equilibrar o “governar de dentro” com o “prestar contas para fora”.
O terceiro desafio é de capacitação – e em duas mãos. Não só dos povos indígenas e tradicionais em informação, conformidade e finanças, mas também, no sentido contrário, de economistas e profissionais de mercado de capitais em modelagem de uma nova economia.
Não dá para continuar adaptando necessidades de povos e comunidades a modelos externos tradicionais. Deve-se moldar modelos financeiros coerentes com suas cosmologias, onde valor não se mede apenas em moeda, mas em regeneração, tempo e reciprocidade. Uma real revolução nos chamados “suitability assessment” ou “análise de perfil do investidor” que terão a obrigação de expandir as dimensões tradicionais de risco e retorno para outras tantas.
Como em qualquer mandato de investimento, somente os donos dos recursos podem responder às perguntas acima, nesse caso, os povos indígenas e comunidades tradicionais.
O TFFF, com seu mecanismo de alocação financeira dedicada para povos indígenas e comunidades tradicionais, portanto, é mais do que um fundo. É um laboratório global de decolonização financeira, onde a floresta ensina – e o sistema financeiro reaprende, o que é permanência, retorno e valor.
*Julieda Puig possui extensa experiência internacional no mercado financeiro, com ênfase em riscos, compliance e sustentabilidade. Foi head regional de conduta na Europa e head global de ESG e compliance no HSBC. Baseada em Londres, é conselheira consultiva da Lacan Ativos Florestais e sócia-sênior da BRBRIDGE. Foi secretária-adjunta de política econômica no governo FHC.
* Manuella Cantalice é uma economista regenerativa, focada em modelos financeiros inovadores que promovam mudanças sistêmicas e transição justa. É mestre em Gestão do Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE) e bolsista Chevening, onde fundou sua organização, New Animal. Tem servido como ponto focal para Povos Indígenas e comunidades locais do Tropical Forest Forever Facility (TFFF), com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Anteriormente, ocupou funções estratégicas na Missão do Brasil junto às Nações Unidas, Climate Policy Initiative, e UK PACT.